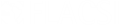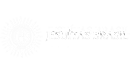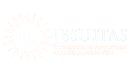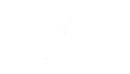Por Ana Maria Loureiro, assessora pedagógica da Rede Jesuíta de Educação Básica (RJE).
As sociedades humanas representadas na vida de seus indivíduos, ao longo da história, sempre apresentaram uma necessidade imperativa de acomodação aos padrões e modelos de dominação que descortinaram relações desiguais recheadas de códigos, estereótipos e preconceitos. Culturas, etnias, raças, religiões e demais pertencimentos sempre estiveram envolvidos em lutas e conflitos, de formas mais veladas ou mais declaradas. Todas, de alguma forma ou medida, causadoras de dor e sofrimento àqueles que não pertenciam ao que podemos denominar grupos dominantes e hegemônicos, derivados dos poderes econômico e social.
No bojo dessa perspectiva, percebe-se a necessidade de distinguirmos alguns conceitos que têm vindo à tona nas discussões atuais, na medida em que eles têm seu sentido e significado alterados e confundidos quando postos à prova, e que embotam as lutas por reconhecimento. Machismo e masculinidade, feminismo e feminilidade são exemplos dessa realidade e mostram a face mais perversa dos discursos de ódio e da violência. Da mesma forma, o pretenso e equivocado mito de uma democracia racial em nosso país, que se traduz em silêncio, conivência e inércia, compactua e permite a violência em níveis diversos, não expondo o quanto as estruturas sociais estão verdadeiramente comprometidas com essa realidade. Essa é a face mais vulnerável e adoecida de nossa sociedade, e gera solidão e sofrimento, atingindo essas minorias, que são, na verdade, maiorias numericamente, em sua autoestima, na aceitação de si enquanto membro legítimo de uma sociedade, cidadãos plenos de direitos, que deveriam ser socialmente e afetivamente reconhecidos.
Para esse breve texto, em possível diálogo com a teoria de Axel Honneth, pretendo abordar a questão racial e seus desdobramentos, especificamente em nosso país, em que discriminações estruturais arraigadas acontecem, e que atinge de modo especial, as mulheres negras, incidindo nas questões de raça e de gênero que se misturam e se complexificam.
O Racismo Estrutural
A afirmação feita pela escritora Djamila Ribeiro nos fala da questão do racismo estrutural principalmente na sociedade brasileira, não como uma questão individual, mas sim como algo presente numa coletividade. Partindo-se da premissa de que o social é basicamente relacional, recorro a Honneth (2003, p. 256) quando apresenta os conflitos ou as querelas sociais como uma luta assim caracterizada “na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além do horizonte das intenções individuais, chegando a um ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo”.
A identidade de um indivíduo não se restringe ao pessoal, pois se dá e é reconhecida na relação com os demais de uma sociedade, por meio da cultura. Daí a expressão identidade cultural, pois a construção de uma identidade ocorre em estreita relação com a cultura em que o indivíduo está inserido. Nesse sentido, segundo Kuper (2002, p. 299), “a identidade cultural anda de mãos dadas com a política cultural. Uma pessoa só pode ser livre na arena cultural apropriada, onde seus valores são respeitados”. E é nesse diálogo entre o individual e o coletivo que as identidades culturais são construídas.
 Historicamente, aprende-se que os negros foram escravos, como se essa condição fosse inerente à cor da pele, expandindo e aprofundando uma marca que coloca o negro numa situação socialmente inferior. Pouco são mencionadas as revoltas, os conflitos e as lutas dessa população por liberdade e reconhecimento em sua humanidade. O racismo estrutural nasce dessa visão distorcida e desequilibrada, principalmente quando da interação com o homem branco. E é nessa relação que as experiências individuais de desprestígio social e de desrespeito, quando interpretadas como experiências coletivas, levam a um movimento de exigência por reconhecimento, nos termos de Honneth (2003). Segundo esse teórico, “As lutas e os conflitos históricos, sempre ímpares, só desvelam sua posição na evolução social quando se torna apreensível a função que eles desempenham para o estabelecimento de um progresso moral na dimensão do reconhecimento” (HONNETH, 2003, p.265).
Historicamente, aprende-se que os negros foram escravos, como se essa condição fosse inerente à cor da pele, expandindo e aprofundando uma marca que coloca o negro numa situação socialmente inferior. Pouco são mencionadas as revoltas, os conflitos e as lutas dessa população por liberdade e reconhecimento em sua humanidade. O racismo estrutural nasce dessa visão distorcida e desequilibrada, principalmente quando da interação com o homem branco. E é nessa relação que as experiências individuais de desprestígio social e de desrespeito, quando interpretadas como experiências coletivas, levam a um movimento de exigência por reconhecimento, nos termos de Honneth (2003). Segundo esse teórico, “As lutas e os conflitos históricos, sempre ímpares, só desvelam sua posição na evolução social quando se torna apreensível a função que eles desempenham para o estabelecimento de um progresso moral na dimensão do reconhecimento” (HONNETH, 2003, p.265).
A aceitação tácita do discurso de que não há racismo no Brasil em comparação a outros países, como os Estados Unidos, nos leva a uma paralisia e ao não enfrentamento das questões presentes em nosso cotidiano. É necessário nomear e enfrentar socialmente e politicamente o racismo, na perspectiva de arrancar esses sujeitos “da situação paralisante do rebaixamento passivamente tolerado e de lhes proporcionar, por conseguinte, uma auto-relação nova e positiva” (2003, p. 259).
Na formação do indivíduo negro, são constatados rotineiramente casos de racismo desde a infância, principalmente em relação às meninas e depois às mulheres, frequentemente apresentadas de forma erotizada, sensualizada. Referências à cor da pele como ‘cor do pecado’, assim como ao tipo de cabelo como ‘cabelo duro, cabelo ruim’, geram nas jovens uma necessidade imperativa de alterar sua aparência. A não aceitação de si, advinda do olhar do outro, leva a questionamentos sobre sua identidade pessoal e coletiva, afetando intimamente a autoestima. Esse sentimento está presente nas palavras da pesquisadora Joice Berth, citada por Djamila Ribeiro (2019, p.24), “Não me descobri negra, fui acusada de sê-la”. Nessa perspectiva, o mundo apresentado era branco e dos brancos, segundo Ribeiro (2019), um ideal a ser atingido.
Nessa linha de análise, Honneth (2003), a partir das reflexões de Hegel e Mead, apresenta um quadro interpretativo que descreve o processo de formação moral do sujeito, cujo ponto de partida são as três formas de reconhecimento, do amor, do direito e da estima, que criam, em conjunto, “as condições sociais sob as quais os sujeitos humanos podem chegar a uma atitude positiva para com eles mesmos; pois só graças à aquisição cumulativa de autoconfiança, autorrespeito e autoestima, como garante sucessivamente a experiência das três formas de reconhecimento, uma pessoa é capaz de se conceber de modo irrestrito como um ser autônomo e individuado e de se identificar com seus objetivos e desejos” (p.266). Levando-se em conta a trajetória de desrespeito e cerceamento das liberdades e oportunidades individuais e coletivas que têm vivido a população negra em nosso país, podemos entender seu sofrimento e suas lutas por direitos e reconhecimento.
O amor que resulta na autoconfiança é construído desde a infância como a forma mais elementar do reconhecimento. Nesse sentido, crianças negras vivem experiências de violência mais subliminar ou mais clara cotidianamente, dentro e fora das famílias, dirigidas a si ou a outros membros de sua comunidade, o que cria um sentimento de inferioridade cujo lugar social é sempre de desprestígio. Segundo Honneth (2003), embora, em toda relação amorosa haja uma dimensão existencial de luta, essa ainda está restrita a uma relação primária.
 Contudo, quanto às formas de reconhecimento do direito e da estima social, elas “já representam um quadro moral de conflitos sociais, porque dependem de critérios socialmente generalizados, segundo o seu modo funcional inteiro.” (2003, p. 256). No que concerne ao recorte aqui apresentado, é constatado o uso da cor para segregar e oprimir, resultado da histórica condição desses seres humanos tratados como mercadoria. Como exemplo, é notório perceber a pouca participação da população negra em espaços de poder. Mas o aspecto mais perverso dessa negação de direitos diz respeito ao acesso à educação de qualidade, fruto do racismo estrutural que está vinculado às condições sociais da população negra, e à qualidade da educação pública em nosso país. Esse fato contraria os objetivos educacionais da Companhia de Jesus, presentes no documento A Companhia de Jesus e o Direito Universal a uma Educação de Qualidade (2019, p. 24), que declara que esse não é um direito qualquer, “pois sem ele é praticamente impossível aceder aos demais direitos humanos e desfrutar das liberdades fundamentais”. Se consideramos que a educação é o principal ativo para a mobilidade social, segundo Ribeiro (2019, p. 62), os processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual decorrem do “rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar. (…) A esse processo denominamos epistemicídio”.
Contudo, quanto às formas de reconhecimento do direito e da estima social, elas “já representam um quadro moral de conflitos sociais, porque dependem de critérios socialmente generalizados, segundo o seu modo funcional inteiro.” (2003, p. 256). No que concerne ao recorte aqui apresentado, é constatado o uso da cor para segregar e oprimir, resultado da histórica condição desses seres humanos tratados como mercadoria. Como exemplo, é notório perceber a pouca participação da população negra em espaços de poder. Mas o aspecto mais perverso dessa negação de direitos diz respeito ao acesso à educação de qualidade, fruto do racismo estrutural que está vinculado às condições sociais da população negra, e à qualidade da educação pública em nosso país. Esse fato contraria os objetivos educacionais da Companhia de Jesus, presentes no documento A Companhia de Jesus e o Direito Universal a uma Educação de Qualidade (2019, p. 24), que declara que esse não é um direito qualquer, “pois sem ele é praticamente impossível aceder aos demais direitos humanos e desfrutar das liberdades fundamentais”. Se consideramos que a educação é o principal ativo para a mobilidade social, segundo Ribeiro (2019, p. 62), os processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual decorrem do “rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar. (…) A esse processo denominamos epistemicídio”.
Os estereótipos construídos sobre o homem e, especificamente, sobre a mulher negra, que confinam seus corpos à marca da sexualização, retiram de ambos sua humanidade. A frustração às expectativas de reconhecimento como seres humanos equitativamente à população branca encontra-se arraigada na psique desses sujeitos e responde à formação de suas identidades. Segundo Honneth (2003, p. 258), os “motivos da resistência social e da rebelião se formam no quadro de experiências morais que procedem da infração” dessas expectativas.
Nesse sentido, os sentimentos coletivos de desrespeito e injustiça possibilitam e fazem surgir movimentos de resistência e lutas sociais, como as voltadas para as ações afirmativas que resultam em políticas públicas de combate à desigualdade racial e na promoção da diversidade. São políticas de reparação e equidade como as cotas raciais dentre outras. Para Honneth (2003, p. 258), esses sentimentos de lesão constituem a base motivacional de resistência coletiva em que “o sujeito é capaz de articulá-los num quadro de interpretação intersubjetivo que os comprova como típicos de um grupo inteiro”. Trata-se da “existência de uma semântica coletiva que permite interpretar as experiências de desapontamento pessoal como algo que afeta não só o eu individual, mas também um círculo de muitos outros sujeitos”.
Em seu Pequeno Manual Antirrascista, a escritora Djamila Ribeiro nos convoca à luta por reconhecimento de uma população que, após séculos de escravização, ainda vive situações de desprestígio e desrespeito que resultam em violência e clama por justiça. Trata-se de uma luta por condições intersubjetivas da integridade de pessoas e grupos, que fala de sentimentos coletivos de injustiças e surge das “experiências morais que os grupos sociais fazem perante a denegação do reconhecimento jurídico ou social”, nos termos de Honneth (2003, p.261).
A voz que clama e que não pode esperar nos diz: combata a violência racial, sejamos todos antirracistas!
* Texto apresentado à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje) como conclusão do módulo do curso “Cidadãos para o mundo”, em 2022.